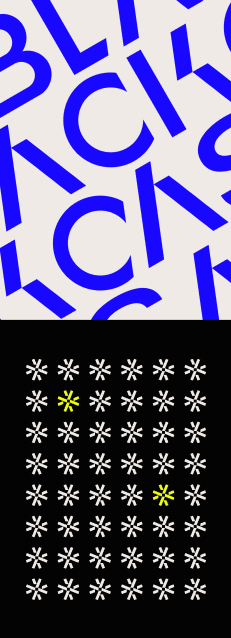Toda vez que Hollywood anuncia mais um remake, vem a inevitável pergunta: era mesmo necessário? Raramente a resposta é sim. Mas, em meio a tantas produções caras e sem conteúdo disponíveis por aí, que bom que A Cor Púrpura tenha sido uma das escolhidas para ganhar uma repaginada e chegar a um novo público, agora no formato já consagrado nos palcos da Broadway.
Na adaptação para a tela grande, entretanto, a versão dirigida por Blitz Bazawule, que estreou no Brasil em fevereiro, tinha pela frente vários desafios. O primeiro era conciliar os temas sensíveis do romance de Alice Walker, originalmente publicado em 1982, com a natureza tradicionalmente grandiosa de um espetáculo musical dentro do registro mais realista do cinema.
Além disso, não era tarefa fácil condensar os acontecimentos da trama épica, que narra décadas da trajetória da protagonista, Celie, em um filme de pouco mais de duas horas — e ainda mais curto do que a adaptação clássica de 1985, dirigida por Steven Spielberg, que lançou a carreira de Whoopi Goldberg, brilhante no papel principal. O grande mérito do projeto atual, produzido por Oprah Winfrey (a Sofia da primeira versão para o cinema) é ser fiel à essência da história. A execução tem acertos e tropeços, já que nem sempre consegue manter esse equilíbrio entre a força da dramaturgia e a exuberância dos números musicais.

Criada no sul dos Estados Unidos no início do século 20, Celie (Phylicia Pearl Mpasi/Fantasia Barrino) é uma menina negra de 14 anos abusada pelo pai. Ela está prestes a dar à luz pela segunda vez e ter seu bebê arrancado de seus braços novamente. Como se não bastasse, casa-se com Mister (Colman Domingo), um homem violento, e é separada da pessoa mais importante do mundo para ela: sua irmã, Nettie (Halle Bailey/Ciara). Acompanhamos a transformação de Celie ao longo dos anos, em cada encontro e desencontro que marca sua trajetória. É uma história dura, com cenas incômodas, diálogos que ferem e silêncios que cortam. E talvez por isso mesmo os números mais intimistas estejam entre os pontos altos do filme. Canções como “She Be Mine” e “I’m Here” funcionam aqui como a materialização do que a personagem, de gestos tímidos e olhar cabisbaixo, que aprendeu a esconder o sorriso e engolir o choro, tem dificuldade em expressar em palavras. É poético, tocante e muito poderoso.
Canções garantem a síntese dos momentos
Outro belo momento é “Miss Celie’s Blues” (Sister), herança do filme de 85 (que, assim como o atual tem produção musical de Quincy Jones). A balada é uma delicada síntese da amizade improvável que surge entre a protagonista e Shug Avery (Taraji P. Henson), amante de Mister. Nesta versão, o número ganha até mais destaque por ter uma cena só sua, sem correr o risco de ser ofuscado pela explosiva “Push Da Button”. É uma decisão acertada, porque a relação entre as duas não só é importante para movimentar a trama, como sublinha um dos temas que permeiam a história: a importância de uma rede de apoio para a emancipação feminina.
Esse mesmo aspecto aparece, com outro enfoque, mas com a mesma intensidade, em “Hell No!”, interpretada inicialmente por Sofia (Danielle Brooks). A nora de Mister, que se recusa a baixar a cabeça para o sogro e toma as rédeas do próprio casamento com Harpo (Corey Hawkins), tem muito a ensinar, tanto pelo discurso como pelo exemplo. Indicada ao Oscar na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, Brooks é a leveza em pessoa nas cenas mais cômicas e uma presença imponente nas sequências mais dramáticas. O momento em que Celie retoma um trecho de sua canção, indicando que a passagem de bastão se completou, é sutil e comovente.
Faria bem ao filme, inclusive, ter mais momentos de sutileza. Em mais de uma ocasião, o roteiro assinado por Marcus Gardley diz explicitamente o que poderia muito bem ficar subentendido, como as razões de Celie em aconselhar Harpo a agredir Sofia. A fala é chocante, sim, e à primeira vista até enigmática, mas está perfeitamente explicada no contexto de violência em que ela cresceu e passou boa parte de sua vida adulta. No mesmo círculo vicioso foi educado Mister, que agora reproduz sem pudor a violência a que foi submetido a todos ao seu redor.
No entanto, embora traga algumas cenas interessantes que o retratam de forma vulnerável e impotente, o filme acaba sendo benevolente demais com o personagem em sua reta final. É uma transformação inverossímil, mas que combina com o desfecho um tanto piegas e quase religioso do longa. Outra questão é que uma versão mais enxuta em relação aos números musicais permitiria aprofundar mais as relações entre os personagens. Algumas canções nem fariam tanta falta se ficassem de fora. É o caso de “Keep It Movin’”, que traz Celie e Nettie ainda juntas na infância, mas que nem de longe traduz a intensidade dos laços entre elas. Seria preciso mais tempo de tela para adentrarmos mais nesse universo particular das duas. E mesmo Shug sendo uma personagem importante, não havia necessidade de tantas músicas sobre ela (ou com ela) se o coração da narrativa está em Celie.

Apesar de todos os problemas, foi interessante reparar, na sala de cinema, nas pessoas reagindo às situações da trama com alguma surpresa. Possivelmente, muitas delas estavam tendo contato com essa história pela primeira vez, a exemplo do que o desfile da Portela no Carnaval 2024 fez com outro livro que é referência, “Um Defeito de Cor”, de Ana Maria Gonçalves. Drama familiar e social, registro histórico e, ao mesmo tempo, crônica da atualidade, “A Cor Púrpura” ainda toca as pessoas e vai continuar tocando, porque sua força sobrevive ao tempo.